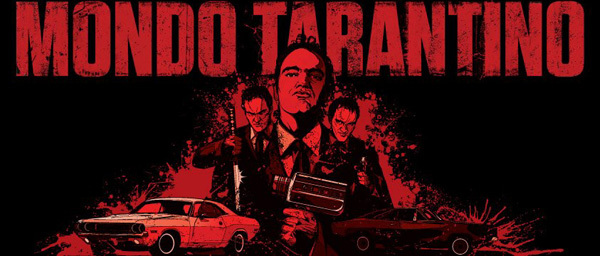Por Felipe Mendes
Com vários movimentos em efervescência, o cinema mundial viveu tempos dourados na década de 60. Da França ao Brasil, passando por países como a extinta Tchecoslováquia e o Japão, o objetivo dos jovens idealizadores da sétima arte era o mesmo: promover novas fórmulas estéticas e narrativas, sugerindo um novo olhar para a criação de um ‘cinema novo’. Inspirados por autores consagrados como os italianos Roberto Rossellini e Luchino Visconti, o soviético Sergei Eisenstein, o norte-americano John Ford, o precursor nacional Humberto Mauro, entre outros, um grupo de jovens intelectuais brasileiros resolveu apontar as lentes de suas câmeras aos conflitos sociais e econômicos presentes na população da época.
O Cinema Novo, como ficou conhecido, surgiu com a proposta de um despertar sociocultural em meados dos anos 50, como forma de contravenção aos modelos audiovisuais que reinavam naqueles tempos: as comédias da Chanchada, dos estúdios da Atlântida, e a produtora Vera Cruz. Com uma abordagem distinta das demais, o intuito do movimento era realizar um cinema mais verdadeiro e desprovido de interesses industriais, que fizesse das ruas sua mise-en-scène. Seguindo estes preceitos, Nelson Pereira dos Santos lançou em 1955 a obra que daria diretrizes ao movimento: Rio, 40 Graus. Conforme os anos se passaram, o Cinema Novo ganhou estrutura e teve em Cinco Vezes, Favela seu pontapé definitivo. Com dificuldades de dialogar com o público local, o movimento demorou para engrenar, conquistando representatividade apenas em 1964, quando inúmeras obras foram premiadas mundo afora.
Laureado com o Olho de Ouro, prêmio máximo entre obras documentais no Festival de Cannes, Cinema Novo é um projeto de dois provenientes deste movimento que eclodiu, de fato, no Brasil dos anos 60: Eryk Rocha e Diogo Dahl. Filhos de expoentes do cinema nacional como Glauber Rocha e Gustavo Dahl, os amigos se uniram em busca de promover um resgate histórico do movimento. Através das obras daquela época, o documentário homônimo registra a transformação social, o reconhecimento étnico e os conflitos de um país em tempos de ditadura. Em entrevista ao Cinemascope, o diretor Eryk Rocha conversou acerca do movimento e sua relação intrínseca ao filme, as dificuldades do projeto e o debate político como forma de expressão da arte contemporânea. Confira a conversa na íntegra a seguir:
Gostaria que você nos contasse um pouco sobre o projeto, sobre as dificuldades. Como veio a ideia de realizar uma obra sobre o movimento? Vi que você flertou com o tema durante anos.
Eryk Rocha: Este projeto surgiu há quase dez anos atrás, durante uma conversa com o Canal Brasil, que é meu parceiro em vários projetos e coprodutor de alguns dos meus filmes. Nessa conversa, nós percebemos que não existia um filme que falasse sobre a complexidade do Cinema Novo. Passados 50 anos do movimento, ainda não existia esse filme. Até existiam alguns filmes sobre [a trajetória de] alguns autores individualmente; muitos livros, muitos ensaios, mas não existia um filme. [A partir daí] nós começamos a conversar sobre o que impulsionou o projeto. A urgência do projeto foi filmar as entrevistas com os realizadores que ainda estavam vivos, porque muitos deles estavam falecendo já, mais velhos, enfermos. E nós falamos: ‘vamos fazer a primeira fase do projeto que é coletar essas entrevistas’. Eu estava enrolado com outros filmes, outros projetos, e pensei: ‘bom, a minha ideia é poder fazer essa primeira fase dos registros [o quanto antes]’. Entre 2007 e 2009, realizamos algo em torno de vinte conversas filmadas, com vinte cineastas. Logo no início do projeto, eu convidei o Diogo Dahl para produzir o filme comigo. Aí nós fizemos essa primeira fase entre 2007 e 2009, e o material ficou sonhando durante anos. Nesse meio tempo, eu fiz quatro longas: estreei Pachamama, Transeunte, Jards e o Campo de Jogo. Além de outras coisas para séries. [Apenas] no início de 2015 eu me reencontrei com esse material filmado junto com o montador Renato Vallone. A gente se reencontrou com esse material que ficou seis anos ali descansando. E então começou a aventura de criação do filme no sentindo da montagem, da construção do filme, [mas] sem parar de trabalhar a pesquisa; porque eram coisas simultâneas. Enquanto a gente montava o filme, a descoberta de novos materiais durante a pesquisa também afetava a montagem do filme. Essa é a história do filme: nós ficamos nove meses montando as imagens, e mais três meses montando o som.
Logo na abertura do documentário, temos uma sequência com vários personagens de filmes consagrados do Cinema Novo em marcha. Isso seria uma afirmação poética sobre estarmos em constante movimento?
Eryk Rocha: O filme tem uma coreografia. Esse movimento permeia toda a obra. Ele está na abertura, mas vai permeando delicadamente o filme, e essas correrias voltam com toda força no final. São movimentos! São as correrias! Acho que meu desejo com este filme era dar movimento ao movimento do Cinema Novo. Era criar um diálogo com o Cinema Novo, no sentido de que nós não estamos fazendo um filme sobre o movimento cinematográfico dos anos 60, nem tentando mistificar esse passado. Não é uma visão romântica, nem idealista, nem saudosista sobre esse passado. É mais um diálogo. Um movimento antropofágico, de alguma forma. Tem uma antropofagia no desejo do filme. Então, eu acho que esse movimento, essas correrias, essas marchas… podemos interpretar de várias formas: ‘para onde nós estamos indo como povo, e como País?’ É uma urgência de movimento em direção ao novo; um novo caminho. Essas correrias têm um sentido libertário. Os personagens precisam correr, precisam se movimentar em busca de algo, em busca de uma revolução. É uma luta também. É um transe também. Ao mesmo tempo, podemos interpretar essas correrias, esse movimento, como um movimento do campo para a cidade. Um deslocamento que tem a ver também com um certo Brasil que o Cinema Novo testemunhou. Esse Brasil deixando de ser rural para ser urbano: da favela para o sertão; do sertão para a favela. Então, eu acho que essas correrias foram muito interessantes. Essa sequência de abertura foi a primeira que nós montamos, do processo de criação do filme. Ela tem essa coisa coreográfica; esses corpos em movimentos que são fios condutores na construção do filme. É um cinema de corpo! É um cinema sensorial! O filme é menos sobre o Cinema Novo e mais um filme que tenta incorporar as sinergias corpóreas, estéticas, políticas e espirituais do movimento. Por isso eu digo que é mais um diálogo. O filme é a polifonia dos autores: estamos dando voz à denúncia; estamos dando voz à reflexão; estamos dando voz a pensar o Brasil; a olhar para o Brasil de hoje; a pensar o cinema também. Acho que o Cinema Novo não é uma coisa ou outra. Ele é um movimento complexo, rico, e acho que não é à toa que demorou-se quase 60 anos para se realizar um filme sobre isso, porque é um desafio. A gente está lidando com os mestres do cinema brasileiro, com pelo menos de 15 a 20 cineastas potentes num filme de 1h30min.
No documentário, é possível perceber uma espécie de ensaio sobre a sociedade brasileira a partir das obras daquela época; como foi esse processo de montagem?
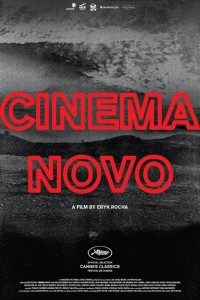
Eryk Rocha: Filme complexo e muito difícil. Estamos falando da história do cinema brasileiro; de uma multidão de filmes. [Além disso] um trabalho de construção e articulação muito difícil também. Mas, uma coisa que foi interessante para nós logo de largada, foi saber que faríamos um filme e também uma série de TV*. Então, o fato de você começar a relargada na montagem do filme, sabendo que vai ter uma série, alivia um pouco, faz sofrer menos, e ter um entendimento também do que é o longa-metragem, de como seria a nossa aposta na linguagem do filme, e o que é a série. Acho que são coisas complementares. Isso foi muito bom para aprofundarmos o caminho que estávamos traçando para o longa. Em relação a montagem, como em qualquer filme, nós tivemos que abrir mão de muita coisa; são escolhas. É escolher um caminho e acreditar nele. Um trabalho de nove meses de montagem. Diariamente. Trabalhando muitas horas por dia e descobrindo o filme pouco a pouco. O coração do filme é a montagem.
*O seriado ‘Cinema Novo – A Aventura da Criação’, dividido em seis capítulos, foi exibido pelo Canal Brasil, e encontra-se disponível para assinantes no portal Globosat.
Qual é a relação que podemos traçar entre àquela época e a atualidade?
Eryk Rocha: Acho que o filme dá voz àquela época, mas dá voz a essa época que estamos vivendo também. O fato dele não ter, digamos assim, críticos, historiadores ou especialistas interpretando o que foi o Cinema Novo, elimina uma mediação e coloca o espectador em confronto direto com aquele fluxo de imagens, com aquele pensamento, com aquela ‘cachoeira’, como dizia Humberto Mauro*. Por isso que eu digo: acho que o filme é muito mais um diálogo, e esse turbilhão de imagens bate no presente, bate no espectador para pensar no agora, para pensar em como é o cinema hoje, o que é o nosso País, o mundo, e o que é a política hoje. São perguntas que a gente faz. Eu não estou colocando um historiador, um cineasta, ou um crítico falando: ‘ah, naquela época era assim ou assado’. Essa mediação é eliminada no filme. Se você observa com cuidado o filme, a construção dele, as vozes que apitam o filme e narram ele, você não tem praticamente nenhum momento em que alguém está falando ‘ah, naquela época’. Está tudo em primeira pessoa, está ecoando no agora. Esse tipo de reflexão me interessa muito. Construímos o filme todo, integralmente, com materiais de arquivo e com filmes; entretanto, estamos com desejo de falar do agora, do presente. É paradoxal, mas a estratégia de linguagem do filme é essa.
*Humberto Mauro foi um dos precursores do cinema brasileiro. Idealizador de várias obras a partir dos anos 20, Mauro foi uma das principais referências para cineastas como Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha. Recentemente, um de seus títulos mais consagrados, ‘Ganga Bruta’ (1933), foi lembrado pela Abraccine na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos.
O manifesto “Estética da Fome”, do Cinema Novo, surgiu com o intuito de promover um choque de realidade para o povo brasileiro, denunciando problemas sociais e econômicos existentes no País. Contudo, a população acabava não se sentindo representada pela forma primitiva como era retratada em alguns filmes do movimento. Além disso, existia uma dificuldade para que o público conseguisse assistir aos filmes. Você acha que esses fatores culminaram com as quebras dos ideais do Cinema Novo?
Eryk Rocha: Acho que o Cinema Novo não é um movimento apenas de momento, é um movimento de futuro. O Cinema Novo é um grande documentário sobre o Brasil. Se for analisar o conjunto de filmes, é um testemunho do País. Dentro do movimento existem filmes que estão vivos até hoje, que estão em cartaz não só no Brasil, mas no mundo. Filmes como Vidas Secas, Terra em Transe, A Falecida ou Padre a Moça, entre tantos outros, estão em cartaz há cerca de 50 ou 60 anos. Isso não é pouca coisa! Então, não é um movimento somente daquele momento. São filmes que estão se reatualizando. Alguns outros filmes ficaram mais datados, tem várias situações, mas eu acho que isso que você está apontando, que inclusive é algo que o Cacá Diegues fala em certo momento do filme: dessa contradição em relação ao público porque eles estavam fazendo um cinema que queria ser popular, mas o público tinha dificuldade de ver os filmes. Isso é uma questão que tem várias nuances. Primeiro, é uma questão endêmica: nós temos um público historicamente educado por um cinema americano, hollywoodiano. A televisão não tanto, porque naquela época estava começando, era uma coisa embrionária. Mas, a gente tem um público que é historicamente acostumado a ver filmes americanos, e a enxergar o cinema como entretenimento. Por outro lado, temos também, no caso do Cinema Novo, uma geração que estava propondo uma nova linguagem, um novo olhar, uma nova gramática para o cinema; e muitas vezes o novo precisa de tempo para ser assimilado, principalmente quando você tem um público educado através de uma linguagem padronizada de entretenimento. Além disso, eu acho que eles [os filmes do movimento] até ocupavam espaço no mercado, eram distribuídos, mas sempre com limitações. Agora, é importante dizer também que vários desses filmes tiveram um grande público. Quase todos os cineastas do Cinema Novo fizeram ao menos um filme de grande público. Um filme como Macunaíma, por exemplo, é um sucesso popular. O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro teve um bom público. Um filme como o do Domingos de Oliveira, Todas as Mulheres do Mundo, [também] teve um grande público. O Cacá Diegues aponta isso até numa entrevista, ele fala que ‘todos nós fizemos pelo menos um filme de grande público’. Então, o Cinema Novo também tem uma veia popular, de comunicação com o público.
Alguns cineastas daquela época só ganharam notoriedade e reconhecimento do público brasileiro após os consecutivos prêmios conquistados na Europa. Atualmente, isso é algo que ainda acontece. Quais são as diferenças entre a forma como era visto o cinema no Brasil antigamente em relação a atualidade?
Eryk Rocha: O Joaquim Pedro fala no filme sobre eles terem que ir para a Europa, conquistar prêmios em grandes festivais, para serem reconhecidos dentro do Brasil. Ele fala que isso é típico dos países colonizados; é uma fala chave do filme inclusive. E, isso de alguma forma continua acontecendo, né? Hoje, a gente tem um cinema independente que, por uma série de situações, também não é mais visto pelo grande público. Aliás, o cinema hoje não é mais uma coisa popular. Naquela época, nos anos 60, o cinema era ‘a arte audiovisual’, ‘a única’, era ‘o todo-poderoso’. O cinema era uma arte popular. Tanto é que vários desses filmes autorais do Cinema Novo foram sucesso de público. Hoje em dia, o cinema tem vários desdobramentos, é [apenas] mais uma forma audiovisual: tem a televisão, que naquele momento era embrionária, a internet, a Netflix, a TV a cabo, o DVD, o Blu-ray, o celular. Hoje a gente vive num mundo que tem mais câmeras que pessoas, por exemplo. O significado do cinema é outro em relação àquela época.
O que explica essa queda no desejo das pessoas irem às salas de cinema hoje?
Eryk Rocha: Se você for olhar às salas de cinema hoje, vai perceber que não é mais uma arte popular, é uma arte elitista. Raramente a gente tem filmes brasileiros que fazem milhões. São raros; pontuais. Comédias, filmes mais comerciais, ou fenômenos como Tropa de Elite e Cidade de Deus. Pontuais! A maioria dos filmes brasileiros tem um público baixo, e é assim por uma série de motivos: é uma questão muito de conjuntura. Primeiro que o cinema não é mais o cinema como era naquele momento. O cinema é dividido com várias outras janelas de exibição, como televisão, DVD, Netflix, celular… o cinema é compartilhado. Por outro lado, o ingresso do cinema é caro para grande parte da população. 92% dos municípios do Brasil não têm salas de cinema. Então, é uma questão estrutural muito séria. Hoje, nós vivemos em um País de 204 milhões de pessoas, [onde] temos apenas 3 mil salas de cinema, por exemplo.
Hoje em dia, temos um movimento de cinema crítico em efervescência, principalmente, no nordeste do país. Os cineastas denunciam temas delicados da sociedade brasileira. Como você vê esse ‘movimento’, se é que podemos chamar assim? Existe alguma semelhança com a denúncia do Cinema Novo?
Eryk Rocha: Não sei se considero um movimento. Acho que mesmo no Nordeste, ou em Pernambuco, tem realizadores com estilos muito diversos, mas com uma preocupação de olhar o Brasil contemporâneo e suas transformações. Eu acho que foram muitas as transformações nos últimos 15 anos. Houve uma mudança social grande no Brasil. Acho que são vários filmes que tem essa ‘inquietação’; essa preocupação de olhar o Brasil. Mas não sei se enxergo como um movimento. Hoje, existem caminhos individuais dos autores do cinema brasileiro. Pessoas que têm afinidades entre elas, umas aqui e outras ali, mas não sei se isso se constitui como um movimento. Creio que não. Infelizmente, no cinema mundial, é difícil você ver movimentos atualmente. Talvez, o que tenha a ver com o Cinema Novo é essa herança de querer dialogar com o Brasil, de ir às ruas, de querer discutir o Brasil e suas tensões sociais; querer interpretar o que está acontecendo agora, na nossa época, no nosso País. Então, acho que isso tem a ver com o Cinema Novo porque ele foi uma ruptura no audiovisual brasileiro. O Cinema Novo tirou as câmeras dos estúdios, câmeras pesadas, e levou às ruas. Até então, o cinema brasileiro, tirando poucas exceções, queria copiar o cinema americano ou europeu. O Cinema Novo vai em busca de uma nova linguagem, conectado com o momento histórico do Brasil, querendo olhar quais eram as transformações do Brasil naquele momento. Acho que essa questão do coletivo no Cinema Novo, do afeto, da amizade, é um traço muito forte. O filme coloca isso em primeiro plano também. Os movimentos coletivos hoje foram despedaçados, de certa forma. Quais são os projetos coletivos hoje, de país, e de cinema? Acho que eles foram desmantelados. O desafio para minha geração é ver como vamos reconstruir isso. Não nos mesmos moldes exatamente do Cinema Novo, mas talvez inspirados por eles. Essa questão da coletividade é algo que me perturba muito, e ela reflete em tudo, inclusive no cinema. Existe um colapso afetivo, econômico, social e político enorme no mundo hoje, justamente pela destruição dos projetos coletivos.
Com o movimento, vários autores se organizaram para formar um cinema mais forte, com produção e distribuição independentes. Exemplos disso são o Centro Popular de Cultura, a distribuidora DIFILM e a produtora Mapa Filmes.
Eryk Rocha: A DIFILM foi algo maravilhoso, com 15 a 20 diretores se juntando para fazer uma distribuidora. É uma forma de coletivo, né? Na verdade, é a materialização dessa ideia do coletivo: uma distribuidora feita por cineastas e produtores. Era algo revolucionário naquele momento. Um grupo de cineastas faz uma distribuidora para lançar os próprios filmes e ocupam o mercado com eles. E, assim, várias pessoas acabam querendo colocar os filmes na DIFILM; olha que coisa genial. Hoje em dia não existe nada parecido com isso. Eu acho que, realmente, é uma façanha, né? Já o CPC era o braço cultural do partido comunista, o Centro Popular de Cultura, que foi importantíssimo nos primórdios do Cinema Novo porque eles produziram Cinco Vezes Favela, que é o filme inaugural do Cinema Novo. E o Leon Hirszman estava muito envolvido com o CPC, o Carlos Diegues, o próprio Eduardo Coutinho, entre vários outros. É uma vertente importante para a criação do Cinema Novo também.
Como é ser filho do Glauber Rocha e seguir na mesma área de atuação que o pai? É uma pressão a mais?
Eryk Rocha: Acho que ser filho do Glauber é uma honra, um orgulho e uma alegria imensa. Não vejo como uma pressão, e sim um estímulo de coragem, de invenção, de amor ao cinema e ao Brasil. Acho que isso é o que fica mais forte em mim. Meus filmes estão aí para serem vistos e analisados concretamente na tela: em imagem e som. São pessoas que vivem épocas diferentes, que fazem cinemas diferentes, próprios.
Alguns documentários do Glauber foram bastante aclamados pela crítica, eu particularmente aprecio ‘Amazonas, Amazonas’ e ‘Maranhão 66’. Você utiliza isso como inspiração?
Eryk Rocha: Gosto muito dos documentários também. O público em geral conhece mais as ficções, mas gosto muito. Acho muito inspirador. Inclusive, acho que tanto o Glauber quanto o Leon, ou o Joaquim, são grandes inspirações. Mas eu não me sinto como uma continuação de algo, e sim alguém muito inspirado por eles. Acho que esse legado é extremamente rico e espero que com o filme possa voltar também isso. [Espero que o Cinema Novo] possa levar as pessoas a quererem descobrir ou rever esses filmes. É um dos desejos que eu tenho com o meu filme.
Por falar em desejo, qual é o legado que a sua obra deixará?
Eryk Rocha: Se o filme Cinema Novo conseguir atrair a curiosidade das pessoas e o desejo de assistirem a esses filmes, estudarem eles, esses autores… isso já seria uma coisa maravilhosa. Se o filme levar as pessoas a pensarem sobre o País hoje, a situação que elas estão vivendo, se for uma forma delas se confrontarem com o presente, é uma coisa maravilhosa. Se o documentário levar as pessoas a quererem criar filmes, fazer cinema, após sair da sessão, conhecerem e pensarem sobre o País, também é uma coisa maravilhosa.
Algumas das principais obras nacionais reverenciadas no documentário ‘Cinema Novo’, de Eryk Rocha:
- Ganga Bruta (1933)
- Rio, 40 Graus (1955)
- Aruanda (1960)
- Bahia de Todos os Santos (1960)
- Ganga Zumba (1963)
- Vidas Secas (1963)
- Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964)
- Os Fuzis (1964)
- A Falecida (1965)
- O Bravo Guerreiro (1968)
- Macunaíma (1969)
- Iracema – Uma Transa Amazônica (1975)
Depois desse trabalho de montagem tão meticuloso, com tantos filmes assistidos, quais são as suas obras preferidas do movimento Cinema Novo?
Eryk Rocha: Eu gosto muito de vários filmes, e de vários autores. Amo filmes como Vidas Secas, por exemplo, Os Fuzis e Deus e o Diabo na Terra do Sol. Acho que esses três filmes são muito poderosos. Eles são do mesmo ano, 1964. E, são os filmes responsáveis por levar o Cinema Novo para o mundo também. Por outro lado, eu amo Joaquim Pedro e Leon, por exemplo. Padre e a Moça, para mim, é uma obra-prima. Amo Paulo José e Helena Ignez, e a fotografia de Mário Carneiro é primorosa. A Falecida também é outro filme que eu amo. [Além disso] gosto muito dos filmes do meu pai; de Barravento, que é um dos menos falados também. Ele cria uma nova relação entre o misticismo e a política muito curiosa. Também gosto muito dos filmes do Geraldo Sarno: documentários como Viramundo, o Iaô, por exemplo. O Olney São Paulo, que é um cineasta pouquíssimo conhecido, né? Manhã Cinzenta que é um filme que está no Cinema Novo. Todos eles são cineastas muito poderosos, e muito diversos. Acho que isso é uma marca maravilhosa do Cinema Novo: a diversidade estética, linguística e estilística do movimento. As pessoas falam muito do Cinema Novo, mas na verdade são ‘os cinemas novos’. Acho que a potência do movimento está, em grande parte, nessa diversidade. Dentro de uma base comum, que é a realidade brasileira, [o conjunto de filmes] é quase um caleidoscópio do Brasil. Quase um espelho complexo do Brasil. Aliás, como é a marca de todos os grandes movimentos da história do cinema. Você pega um Neorrealismo, uma Nouvelle Vague ou um Novo Cinema Alemão, todos são movimentos muito heterogêneos também. Com autores muito diferentes, mas com uma base em comum. A Grande Cidade, filme do Cacá Diegues, é outro que gosto muito. Aquele preto e branco em alto-contraste. Essa ideia do deslocamento, do sertão para o mar, para a cidade, que está muito presente. Aquela fotografia… Gosto muito de um filme já posterior como Iracema, Uma Transa Amazônica, do Orlando Senna e Jorge Bodansky. Ele é um filme atualíssimo também, que funde o documentário com a ficção de uma forma primorosa. São muitos filmes, e muitos autores. Macunaíma, um filme que ficou meses e meses em cartaz na França, por exemplo; que conseguiu uma carreira brilhante em circuito comercial, e teve muito público. Um filme como Terra em Transe, que explica o Brasil, e fala sobre o País com uma atualidade impressionante, né? Quer dizer, o Cinema Novo provou que a poesia e a política não são demais para um homem só. Acho que essa conexão entre a estética e a política é uma marca do Cinema Novo. Você colocar em contato a estética com a política, amalgamar isso, me parece algo absolutamente urgente e atual no mundo de hoje. Acho que é um traço também do meu filme, Cinema Novo, a todo tempo ligando essas pontas. A gente não pode separar. A estética é uma política.
Confira trechos da entrevista no vídeo a seguir:
Entrevista realizada durante a 40ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em novembro de 2016.