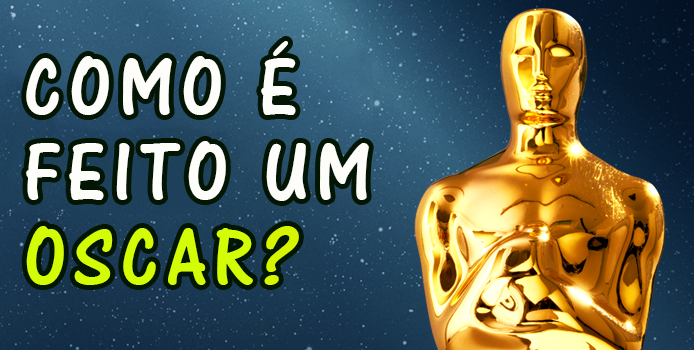Já aviso de antemão: o assunto é polêmico e você talvez não goste do que eu escreverei aqui, mas é preciso falar. Há algum tempo venho observando como filmes que abordam o “ser/se descobrir” mulher têm ganhado visibilidade, conquistado prêmios e chamado a atenção do público. Isso seria muito bom não fosse um porém: tais longas são dirigidos por homens. Antes de você discordar, dizer “ah, mas então agora só mulher pode dirigir filme sobre mulher” ou brigar comigo, te convido para um reflexão, pode ser?
Essa questão vem crescendo em mim já tem alguns anos. Sempre tive uma relação ambígua, por exemplo, com a obra de Almodóvar. Acho os filmes, em sua maioria, maravilhosos e um dos meus preferidos é Tudo sobre minha mãe. Porém, o fato dele ser reconhecido como o diretor que sabe como retratar mulheres me soava injusta em um universo com tantas diretoras – contemporâneas ou não – fazendo o mesmo e tendo nem metade do reconhecimento.
Esse sentimento só cresceu quando vi A vida invisível ser premiado no Festival de Cannes. Como alguém que deseja ver o cinema nacional ser mais valorizado, me senti orgulhosa de ter um longa brasileiro sendo tão reconhecido, mas como mulher me senti incomodada. Importante frisar: não falo do filme como obra e nem do talento de Karim Aïnouz, mas sim de algo que vai além da sua qualidade técnica: representatividade e lugar de fala. Para quem não conhece, Vida invisível foi inspirado no livro de mesmo nome (no caso, A vida invisível de Eurídice Gusmão) escrito por Martha Batalha e aborda como é crescer em uma sociedade patriarcal e machista, como é viver no Brasil dos anos 1950 sendo mulher.
O foco da história, veja só, é o ser mulher em uma sociedade que impõe às mulheres um papel de coadjuvante. Logo, não é sobre a transição entre adolescência e vida adulta, nem sobre memória ou política. Apesar de tais elementos estarem presentes, o coração do filme é o ser mulher. É conseguir ser mulher em um universo que te exclui e cala, algo comum nos anos 1950 e, infelizmente, comum em 2019. É aí que está a problemática. Um homem, por mais empático e envolvido que seja, não consegue compreender isso, não consegue absorver realmente as nuances do que é viver tal realidade, da mesma forma que eu, branca, jamais conseguiria abordar o que é ser negro em uma sociedade racista.
Por maior que seja o aprofundamento de Karim, seu olhar permanece sendo o de um homem – e aqui não estou falando da falácia do “olhar feminino”, algo que eu discordo existir da maneira como é retratado e que um dia ainda escreverei sobre, mas sobre vivência. Karim pode ter se inspirado em sua mãe, sua avó, pode ter escutado histórias de mulheres ao seu redor, mas ele em si não pode compreender uma realidade que não vive e não vai viver. Não se trata do como essa história é contada – afinal, todos temos a capacidade de contar uma boa história – mas quem conta e o impacto que isso tem.
Imagine o poder impresso se um filme como Vida invisível, com os temas que trata (entre eles, aliás, o relacionamento abusivo em relações heterossexuais), indo para fora com uma diretora sendo seu rosto e sua voz? Pode ser que para você não pareça muito ou pareça o mesmo, mas para meninas e mulheres que sofrem o mesmo ou sonham em seguir esse caminho, isso é extremamente poderoso.
Parece um argumento fraco para justificar a presença de uma mulher em tal posição, mas isso muda um pouco de perspectiva quando pensamos, por exemplo, que dentro de todos os selecionados brasileiros para concorrer a uma vaga ao Oscar em 59 anos, apenas dois tinha mulheres no posto de direção: Suzana Amaral em 1986 com A hora da estrela e Anna Muylaerte em 2016 com Que horas ela volta?. Aí você pode dizer “mas isso não tem nada a ver” ou “se não tiveram mais filmes feitos por mulheres indicados é porque não teve filme bom dirigido por mulher”. Será? Será mesmo que não tem a ver? Será mesmo que em quase 60 anos não tivemos mais que dois grandes filmes dirigidos por mulheres que poderiam ocupar essa posição?
Em 2018, por exemplo, o roteirista de Bingo: o rei das manhãs, Luiz Bolognesi considerou injusta a predileção do longa no lugar de Como nossos pais, de Laís Bodanzky. filme esse, aliás, que aborda o que é ser mãe, mulher e esposa na sociedade atual. Por sua história, Vida invisível já é forte. Mas se essa história fosse conduzida por uma mulher ele teria ainda mais força. Não só por conta daquilo que conta nas telas, mas pelo simbolismo que carregaria por trás delas.
Todo esse sentimento, que já vinha fervilhando em mim, culminou em um grande sabor amargo na ponta da língua quando li a sinopse de Luna, escrito e dirigido por Cris Azzi. “Um retrato sensível, autêntico e atual sobre a experiência de crescer como mulher”, dizia. Oi? Mais uma vez, não estou falando da qualidade do filme em si ou da habilidade de Azzi em contar uma história, mas como pode ser um retrato autêntico quando aquele que o retratou não tem tal vivência, não viveu a experiência que deseja retratar?
Aliás, você por um momento já fez o exercício de se colocar nos sapatos alheios e notou que quando uma mulher faz um filme abordando temas como machismo, feminismo e se descobrir mulher ela 1) não recebe tanta visibilidade 2) ouve coisas como “agora é tudo feminismo” ou “olha o vitimismo” ou “geração mimimi” e quando um homem aborda as mesmas temáticas a leitura que se tem é 1) quanta sensibilidade, é um filme verossímil, maravilhoso 2) precisamos de mais filmes assim?
É claro que o cinema não deve ser colocado em caixinhas e que homens são livres para dirigir filmes com personagens femininas e que abordem crescimento, desenvolvimento e machismo – até porque ser mulher = aprender a lidar com machismo. O que estou tentando dizer, respondendo à crítica que antecipei lá no começo, é que mulheres devem ser priorizadas em filmes que abordam o que é ser mulher e a experiência do ser mulher.
Passamos muito tempo vendo homens se colocando no papel de contar tais narrativas, não se trata de impedir, mas de expandir. Se trata de devolvermos à fala a quem ela realmente pertence.