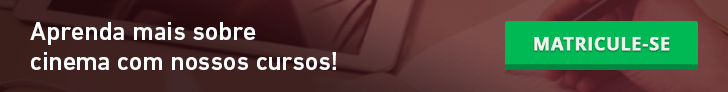Quando filmes que abordam momentos importantes para o feminismo chegam às telas, eles imediatamente ganham a minha atenção. Isso porque, mais do que observar se a obra foi historicamente fiel ao ocorrido, gosto de analisar qual feminismo foi colocado em pauta e de que forma.
Sim, qual.
Mulheres ao Poder, longa de Philippa Lowthorpe que chega ao Streaming do Telecine nesta segunda-feira (8), Dia Internacional da Mulher, é um desses. Nele, além de acompanharmos o desenrolar dos eventos que levaram a um protesto durante o Miss Mundo 1970, também podemos notar sutilmente diversas vertentes do feminismo e como o movimento é interpretado e impacta de maneira diferente mulheres com vivências diversas.
No longa, seguimos a personagem Sally Alexander (Keira Knightley) junto a um grupo de mulheres que se une para protestar e interromper a cerimônia do Miss Mundo 1970, em Londres, em prol do Movimento da Liberação das Mulheres, criticando a forma como o concurso objetificava o corpo feminino, criticando o patriarcado e os padrões de beleza inalcançáveis por ele vendidos.
Enquanto somos apresentados aos bastidores de alguns coletivos integrantes do movimento, observamos também situações de machismo pelas quais Sally passa. Estudante de História na University College of London, logo nos primeiros minutos do longa já vemos como ela é tratada diferentemente de seus colegas homens na entrevista de admissão para o curso. Mãe e divorciada, não falta a pergunta coringa que muitas mulheres ouvem ainda nos dias de hoje “e quem vai cuidar da sua filha”?
Outras situações, como a escolha dela de fazer sua tese focando na perspectiva das mulheres trabalhadoras e sendo criticada pelo orientador por ser excessivamente voltado a “problemas menores”, também mostram as pequenas batalhas cotidianas enfrentadas pelas mulheres até então. Em tempos de “eu não preciso do feminismo”, filmes como Mulheres ao Poder são bons justamente para nos lembrar que se hoje está ruim, há 50 anos estava ainda pior e que se hoje tivemos qualquer avanço é porque outras mulheres vieram antes e abriram caminho.
Esse “alguém veio antes e abriu o caminho para todas” me parece ser o mote principal dos filmes que pincelam o feminismo e é algo que me causa incômodo. Claro que críticas à objetificação do corpo feminino e aos padrões absurdos de beleza – algo que vivenciamos ainda nos tempos atuais – são necessárias e contar tais histórias e das mulheres que ousaram fazer algo a respeito é mais do que fundamental, é uma maneira de celebrar sua luta e memória.
No entanto, o feminismo em longas mainstream tende a se limitar a isso e, curiosamente, o filme de Lowthorope, intencionalmente ou não, traz justamente essa questão à mesa de uma maneira bastante sutil. Em Mulheres ao Poder é possível enxergar diferentes vertentes interagindo e também como o feminismo “tradicional” não consegue abranger ou compreender necessidades diferentes das suas.
Temos um pouco de feminismo marxista aqui, outro pouco mais inclinado ao feminismo racial acolá, mas a verdade é que nessa cacofonia toda não vemos uma real interação em que um lado realmente ouça as necessidades do outro. Isso aparece com mais nitidez em momentos como, por exemplo, a personagem de Sally pensa em desistir de participar de uma ação por ser a responsável por sua filha e ter receio de ir para a prisão e outra personagem a chama de covarde e diz que quem não age merece o mundo que vive.
É verdade que para vermos mudanças precisamos também ser parte da mudança, mas que sororidade é essa que em vez de compreender as necessidades angústias da outra a ataca e repele?
Outros momentos semelhantes acontecem, mas a tensão é quebrada com uma piadinha ou aquele sorriso de “estamos juntas nessa” entre as personagens, sem jamais questionar a atitude contraditória daquela que se diz mais envolvida no movimento. Não haveria tempo para uma discussão assim sendo que esse não é o foco? Talvez. Mas para ao menos uma fala de “chega pra lá” e que gerasse alguma reflexão haveria sim.
Esse, porém, não chega nem a ser o principal. O que mais me chamou a atenção, e que ganha até certo destaque mais para o final do longa, são alguns questionamentos entre as ações de quem está protestando contra o concurso e participantes. Em especial, participantes negras.
É claro que o concurso faz parte de uma estrutura patriarcal que coloca mulheres para competir tendo sua aparência como único atrativo, disso não há o que questionar. Mas será que essa régua não estaria um pouco deslocada? Justamente naquele ano, temos duas histórias que se destacam: a de Pearl Jansen (Loreece Harrison), que entra como Miss Sul da África, uma vez que o posto Miss África do Sul já havia sido ocupado por uma mulher branca e o país vivia o Apartheid (em uma tentativa de silenciar ativistas, o concurso trouxe ambas as candidatas como forma de mostrar seu “posicionamento”), e a de Jennifer Hosten (Gugu Mbatha-Raw), a Miss Granada, que acaba por ganhar o concurso e se tornando a primeira mulher negra a vencê-lo.

O diálogo que precisa existir no feminismo refletido na conversa de Jennifer e Sally.
E é Jennifer a razão de ser desse texto. Porque é com ela que Sally tem uma das conversas mais significativas de todo o filme. Em um encontro inesperado no banheiro, Sally tenta explicar que não é com as competidoras que as manifestantes estão bravas, mas com o concurso e seu sistema como um todo. Jennifer, porém, responde que naquela noite meninas olhariam a TV e se sentiriam felizes a respeito delas mesmas porque veriam alguém igual a elas ganhando o prêmio de mulher mais bonita do mundo e que elas podem ser alguém.
Sally ainda tenta argumentar dizendo que colocar mulheres para competir contra as outras por sua aparência limitava suas opções no mundo, ao que Jennifer responde “mal posso esperar para ter as suas opções”. Em meio a sua fúria contra o concurso, Sally não refletiu que, apesar de seus males, ele poderia trazer, por exemplo, representatividade para algumas mulheres e servir como empoderamento para outras.
Assim como suas colegas, não houve espaço para tal reflexão. Assim como na maioria dos filmes mainstream que abordam o feminismo não há. Fala-se de conquistas gerais e lutas gerais, mas pouco fala-se das necessidades que estão conectadas às questões de raça, classe, sexualidade e mais. Falta interseccionalidade no feminismo tradicional branco e falta também nos longas que o representam.
Essa falta de amplitude nos retratos cinematográficos que temos sobre o feminismo (ou ao menos naqueles que chegam ao grande público) só mostra como estamos em atraso em relação ao tema e como é necessário ter um olhar interseccional ao se consumir algo. Lembro de sentir algo semelhante quando assisti As Sufragistas, de Sarah Gravon, mas não compreender por completo o que esse sentimento era.
Nisso, me vem à mente Alice Walker em In Search of Our Mother’s Garden ao responder à fala de Virginia Woolf em Um Teto Todo Seu usando a jovem poetisa Phillis Wheatley como exemplo,
“Virginia Woolf escreveu que uma mulher deve ter duas coisas, certamente: um quarto próprio (com chave e fechadura) e dinheiro suficiente para se sustentar. O que então devemos fazer com Phillis Wheatley, uma escrava, que nem mesmo era dona de si mesma? Essa garota negra doentia e frágil que às vezes precisava de um criado seu – sua saúde era tão precária – e que, se fosse branca, seria facilmente considerada a superior intelectual de todas as mulheres e da maioria dos homens da sociedade de seu dia?”.
Como podemos afirmar que temos um inimigo comum se algumas de nós estão travando outras batalhas enquanto tentam chegar ao que para outras é comum? Como criticar somente o concurso de beleza sem criticar, por exemplo, também a ausência de diversidade nesse mesmo “padrão de beleza”? Como criticar um padrão de beleza se ele só é padrão para uma parcela das mulheres, enquanto outras têm seus corpos igualmente ignorados e sexualizados?
Essas discussões precisam estar também nos filmes. Precisam estar presentes mesmo naqueles que relatam momentos históricos porque esses mesmos momentos já tinham tais problemáticas. Não dá para fingir que o movimento sufragista foi igual para todas ou que os problemas da nossa sociedade atingem a todas com o mesmo grau e intensidade.
Em dado momento, a personagem de Keira afirma que não considera justo que metade da população mundial tenha possibilidades e oportunidades e outra não. Mas será que podemos falar em metade da população? Ou seria melhor falar da real parcela da população que tem as reais possibilidades e oportunidades, aquela que é branca e com dinheiro?
Não é mais possível que os filmes tentem forçar recortes e nos unir em uma temática única quando a vida não é assim, nunca foi. O diálogo entre Sally e Jennifer é breve e mínimo, mas é um exemplo de como podemos inserir diversos feminismos dentro de um filme que aborda o feminismo, ainda que seja um filme histórico. Sei que algumas produções, especialmente séries, fazem esse movimento, nos trazem diferentes ângulos de uma mesma questão, no entanto, ainda falta mais. Especialmente dentro do cinema.
Mulheres ao Poder é um começo, um bom começo. Mas é preciso que nós como espectadores também façamos leituras diferentes, saiamos do nosso próprio lugar-comum e realmente questionamos o que uma obra está abordando e como. O bom cinema nos faz pensar, nos traz críticas, dúvidas, nos faz questionar. Mas para isso precisamos também questionar a nós mesmos e fazer com que o nosso olhar alcance o outro lado da tela.
Assista ao trailer:
Navegue por nossos conteúdos
- Gosta de opiniões sobre filmes? Clique aqui e confira todas as críticas especializadas em nosso site.
- No Cinemascope você encontra os melhores especiais sobre cinema. Acesse aqui e prepare-se para mergulhar em incríveis retrospectivas cinematográficas.
- Clique aqui e fique que por dentro de notícias e novidades sobre cinema.
- Temos uma equipe maravilhosa espalhada por todo o Brasil. Conheça nossos Cinemascopers!
- Acreditamos no poder do Cinema e do Audiovisual para a cultura e conhecimento. Considere tornar-se um apoiador do Cinemascope.
CONECTE-SE COM O CINEMASCOPE
Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus amigos que amam cinema. Aproveite e siga-nos no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e Spotify.
DESVENDE O MUNDO DO CINEMA
A Plataforma de Cursos do Cinemascope ajuda você a ampliar seus conhecimentos na sétima arte.