Infelizmente, muitas vezes discutir o cinema brasileiro também implica em comentar uma série de preconceitos. O sucesso de filmes com temáticas sociais ou policias nos últimos anos leva a dois deles: por um lado, a de que o sucesso desses filmes ocorre devido a uma narrativa empolgante que não existia anteriormente, e, por outro, a de que o cinema brasileiro só sabe fazer filmes sobre realidades extremas, sem personagens sólidos para um entretenimento amplo. Uma suposta “solução” para o cinema brasileiro seria a de seguir uma narrativa empolgante com personagens distantes da denúncia social. Não acredito que esses termos extremistas – como a solução do cinema brasileiro é isto ou o cinema brasileira precisa daquiçp – sejam coerentes, ou que a solução deva partir somente de quem faz cinema. Contudo, de qualquer forma, uma das “soluções” principais para o cinema brasileiro é justamente conhecer mais o cinema brasileiro, para não cair em preconceitos como os citados acima. Seguindo o caminho do cinema policial, vamos voltar aos anos 1970 para comentar alguns petardos que devem mais ser conhecidos e que vão na contramão de vários preconceitos sobre o que é o cinema brasileiro.
Na segunda metade dos anos 1970, o Brasil acabara de sair dos chamados anos chumbo, o período mais duro da ditadura militar. Também se percebia na sociedade um excesso de violência policial, que muitas vezes apresentava um aspecto moralizante – como ainda ocorre nos dias de hoje. Essa dimensão vai nortear principalmente duas obras comentadas aqui, mas antes de chegar nelas, vale ressaltar que todos filmes comentados neste texto foram vistos a partir da leitura do blog Estranho Encontro, de Andrea Ormond, que apresenta dezenas de críticas de filmes brasileiros, principalmente a partir dos anos 1960, e que muitas vezes foram esquecidos. Logo, fica a dica, pois os textos estão todos disponíveis. Ela inclusive faz a curadoria da Mostra Curta Circuito, uma iniciativa maravilhosa que, há anos, tem exibido vários filmes brasileiros em película em salas de cinema de Minas Gerais. Alguns são clássicos e outros fogem do cânone. A partir da programação da mostra, conheci obras-primas nacionais que nunca tinha ouvido falar, como Rainha Diaba, A Lira do Delírio e As aventuras amorosas de um padeiro. Estas e outras iniciativas conseguem mostrar a variedade do cinema brasileiro, que, em relação a segunda metade do século XX, muitas vezes é reduzido a algumas categorias ou movimentos. Não, nos anos 1960 e 1970 não existia somente cinema novo, marginal, pornochanchadas ou trapalhões. Por mais complexas que algumas dessas definições possam ser, inclusive as pornochanchadas – basta ver Histórias que nosso cinema (não) contava,de Fernanda Pessoa, para verificar isto -, essas categorias não resumem todo o cinema do período, nem de longe. Vamos aos filmes.
Considerando os grandes personagens policiais do cinema americano, com seus Clint Eastwood e Charles Bronson da vida, alguns podem até imaginar a falta de capacidade do cinema brasileiro em produzir personagens icônicos dessa forma. Roberto Sadovski até comenta que “falta um Keanu Reeves no cinema nacional”. Sem entrar nessa discussão, mas olhando pro passado, há muitos personagens que, ouso dizer, não deixam a desejar para nenhum John Wick. Mas é óbvio que estamos falando de cinema brasileiro. Isso significa que há uma cultura brasileira quase impossível de evitar. Tentar negar o Brasil e transportar e aplicar fórmulas externas pode ser um erro grave. Mas isso não significa uma renúncia a personagens emblemáticos.
Em Ódio (1977), de Carlo Mossy, por exemplo, há uma trama simples: a família de um advogado idealista bem sucedido é assassinada por empregados. Roberto, interpretado também por Carlo Mossy, é o único sobrevivente do ataque. Ainda traumatizado, ele decide se vingar de cada um dos empregados que assassinaram sua família. É uma clássica história de vingança. Apático, Mossy entrega um homem traumatizado com pouquíssimas expressões. A força do filme vem pelo mundo em sua volta e o tratamento estético da obra – é nele que enxergamos o Brasil. Toninho (Sérgio Guterres) é o companheiro malandro de Roberto que vai lhe auxiliar no submundo carioca. Esperto a alegre, ele descobre facilmente onde estão localizados os empregados. Há também a dançarina que luta boxe toda noite, e ao chegar em casa, não para de falar. A violência é intensa. Não tanto pelas cenas de luta, mas principalmente pelo grotesco, como as pernas com pus de uma senhora ou o braço cheio de buracos de agulha de um viciado em heroína. Algumas cenas se dilatam na crueldade, como no próprio assassinato da família, com longos quinze minutos, ou na morte do viciado. O que se percebe nesses momentos é uma cuidadosa organização do espaço, que não cai sempre nos tradicionais primeiros planos dos personagens falantes, mas trabalham, de forma simples, com pequenas aberturas do espaço e a movimentação dos corpos. O impacto da violência não se dá tanto pelos sopapos, mas principalmente na forma como a crueldade vai ganhando força gradativamente, em meio a uma série de gritos desesperados e atos grotescos. Vale notar que esse é o terceiro filme de Carlo Mossy como diretor, sendo o primeiro policial. O ator-diretor ficará conhecido mais pela participação em pornochanchadas.
Mas há outro tipo de violência, a moral. O filme começa com um longo discurso de Roberto, na posse do cargo de professor de direito penal em uma faculdade, em que defende a amenização do caráter punitivo da justiça. A longa cena da morte da família do personagem, que indica até o estupro de uma criança, marca o inicio da destruição do idealismo do personagem, que vai se deteriorando gradativamente ao longo do filme. Isto se transfere para a narrativa, pois Roberto parece obedecer uma lógica torta, que segue a racionalidade da vingança, mas que vive mais por reflexos do que por decisões sólidas. Seu rosto impassível, apesar da limitação, se alinha a uma certa anarquia masoquista no qual o mais importante é se vingar e nada mais. Assim, há vários buracos no filme, que não são necessariamente defeitos, mas parecem seguir, na representação narrativa, o estado sentimental do personagem. Não sabemos ao certo como ele chegou em tal local ou o que aconteceu com alguns personagens, mas o mais importante é a perdição, ao mesmo tempo irascível e calma, de Roberto. Tal estado chega ao ápice quando as cenas das mortes de seus familiares voltam, em pontuais flashbacks, mas totalmente deformadas, em preto e branco, como manchas impossíveis de apagar. A imagem do filme absorve esse tom de forma estranhamente delicada, já que sempre deixa claro como a vingança de Roberto nunca lhe traz alívio. No final da morte do assassino viciado, por exemplo, o protagonista aparece ao fundo da imagem, por meio da abertura de uma janela, com o corpo desnorteado. Não sabemos para onde ele foi ou a expressão do seu rosto, mas o seu corpo em profundidade de campo já denota o que precisamos saber.
Um destaque para mostrar os vários respiros de Brasil que o filme apresenta: Em uma das perseguições de um dos assassinos, Roberto e Toninho correm atrás dele por várias ruas, atraindo uma multidão que também começa a correr na mesma direção. Mais pra frente, essa multidão alcança o assassino e o mata a pancadas, enquanto Roberto e Toninho ficam atrás. Um indivíduo chega a perguntar o que aquele homem fez, ao passo que outro responde que não sabe, mas todos continuam batendo. A cena, tristemente atual, é um exemplo da moral distorcida do filme.

A irracionalidade de um linchamento em “Ódio”, de Carlo Mossy
Ainda assim, o filme não se coloca na posição de fazer uma denúncia social, ou alcançar uma verossimilhança total em relação ao Brasil. Contudo, elementos dessa dimensão ainda são presentes, conforme mostra a cena descrita acima. Um outro filme que intensifica o conteúdo social, mas também a construção de um estilo cinematográfico, é Eu matei Lúcio Flávio (1979), de Antônio Calmon. A obra se inspira na vida Mariel Mariscot, um dos integrantes do Esquadrão da Morte, um grupo de policiais proeminentes dos anos 1960 que buscavam eliminar criminosos da época. As mortes aumentaram e começaram a apresentar requintes de crueldade, sendo ainda assinadas a partir de cartazes que eram deixados ao lado dos corpos. A partir do número grande de mortos e a associação de policiais com forças criminosas, o grupo passou a ser criticado pela imprensa e forças da justiça, ocasionando a dissolução do grupo e a prisão de Mariel.
O filme de Calmon não busca fazer uma reconstituição das mazelas da sociedade. Muita coisa parece relativamente artificial, construída e encenada, ainda que demonstrando elementos marcados por desigualdades sociais – algo quase impossível de fugir. Contudo, o filme se torna mais uma espécie de estudo de personagem, no qual o mais importante é absorver a personalidade de Mariel – interpretado belamente por Jece Valadão – do que fazer um documento histórico sobre o Esquadrão da Morte. Se em Ódio há alguns momentos pontuais de irregularidade no domínio da cena, Eu matei Lúcio Flávio é extremamente eficaz. Há algumas mudanças abruptas no entrelaçamento de ações, mas isso não importa, pois os movimentos de câmera, unido ao gestual dos atores, fazem praticamente poesia. Tudo isto aliado a uma trilha musical cativante com nomes como Roberto Carlos e Tim Maia. Como característica da época, o filme apresenta uma sensualidade aflorada, com cenas de nudez e de violência feminina. Jece Valadão é o macho inveterado, cuja força está nos detalhes: seja no seu Shet-up, gringo para um turista francês, ou pelo movimentação sofisticada de seu corpo, captada em cenas com a câmera distante e enquadramento aberto (ver a fuga de Mariel ou quando ele vai retirar o corpo de sua amante de um caminhão com indigentes). Parte dessa violência não se dá somente contra os bandidos, mas também contra as mulheres – que muitas vezes aparecem como figuras de objetificação, que mesmo quando empoderadas, enfrentam um fim trágico, quase como uma punição, já que os homens, diferentes delas, teriam o domínio de conseguir viver no submundo e não sucumbir. Como parte da sensualidade do cinema brasileiro da época, resta pensar até que ponto a representação de Mariel pode suscitar hoje, mais críticas do que fascínio, ou pelo menos um fascínio crítico.
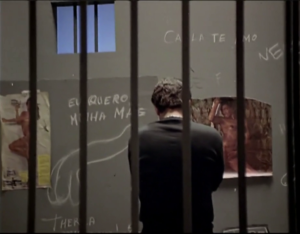
“Eu não matei Lúcio Flávio” de Antônio Calmon
O esquadrão da morte ainda inspirou mais dois filmes famosos dos anos 1970, Lúcio Flávio, passageiro da agonia, de Hector Babenco, mais na linha da denuncia social, e República dos Assassinos*, de Miguel Faria Jr, baseado no livro homônimo de Aguinaldo Silva. Na trama, Mateus (Tarcísio Meira) é um policial que faz parte de um time de elite autorizado a eliminar bandidos no Rio de Janeiro, mas acaba criando ligações com forças criminosas, além de exagerar o número de mortes. O personagem ainda conta com o apoio de políticos e da imprensa. Dos três filmes, este é o que mais tem uma espécie de relevância social clássica, já que representa os excessos de poder, mas isto não ameniza o estilo marcado da obra. No entanto, esta dimensão ganha mais força não tanto pelo uso da câmera ou da mise-en-scène, como ocorre em Eu mate Lúcio Flávio, mas principalmente pelos personagens expressivos. A narrativa é fragmentada, mas não experimental, apostando no depoimento de alguns personagens, em uma espécie de mockumentary. Após pequenos relatos feitos diretamente à câmera, há a representação de algum momento na vida destes indivíduos, geralmente em volta ao mundo destrutivo de Mateus. Tarcísio Meira é outro machão pleno. Entre ele e Jece Valadão, difícil saber quem conseguiu transmitir a virilidade mais perversa, porém, enquanto o segundo é uma mescla de violência e malandragem silenciosa, o primeiro é pura força brutal: ele só conhece o exagero, violentando tudo em volta, parecendo querer camuflar algo interno que o inquieta. Antes de entrar nessa questão, é preciso destacar o personagem mais marcante da obra: Eloína (Anselmo Vasconcelos).
Ela é uma travesti , que se apresentava na noite, e vivia, cheia de dificuldades, com o parceiro Carlinhos (Tonico Pereira). Diante das dificuldades que passam, ambos decidem se aliarem a Mateus. Contudo, ele aceita serviços somente de Carlinhos. Infelizmente, o grupo de policiais trai e assassina o parceiro de Eloína. Anselmo Vasconcelos interpreta a travesti com rara beleza: a maquiagem, os trejeitos, o empoderamento e a força nunca caem no exagero, ou se é exagerado, é o bom exagero de quem sabe viver, uma diva. Mais autêntica do que os personagens machões em volta, Eloína parece se vingar contra toda a violência de seu drama e também do gênero policial, sendo, facilmente, o ser mais fascinante e corajoso do filme. Em termos cinematográficos não há muito segredo, já que, quando ela aparece, o filme não precisa de uma cenografia ostentosa de cabaret, de movimentos estilosos de câmera ou trilha sonora impactante para quebrar e superar os vícios do gênero policial: basta o rosto maquiado de Anselmo Vasconcelos entrar na imagem para que o público sinta que algo diferente está acontecendo. Aqui, o esforço para destacar e analisar elementos formais do cinema é inútil. É o rosto e corpo humano do ator que injeta realismo na tela, não o realismo da verossimilhança ou da denúncia social, mas de algo plenamente humano, fácil de entender, mas difícil – ou não – de explicar.


Claro que quando outros recursos formais entram em cena junto com Anselmo, o filme cresce mais ainda. Tanto que a cena mais marcante da obra – e uma das marcantes do cinema brasileiro como um todo – é o beijo de Eloína e Carlinhos, numa manhã cheia de dificuldades. Preocupada por não ter dinheiro, ela vai a varanda e olha para o horizonte. Carlinhos, enquanto Roberto Carlos canta Outra Vez no rádio – eita, aguenta coração – vai em direção a ela e afirma que tudo vai melhorar. De cuecas, ambos se abraçam e se beijam, de forma intensa e singela ao mesmo tempo. Depois, a câmera levemente se afasta, mostrando os corpos dos dois dançando, enquanto o Rio de Janeiro está no fundo. Contudo, acredito que uma das falhas do filme é o sumiço de Eloína no meio do filme, enquanto no inicio e no final ela tem grande força. Os personagens em volta de Mateus são até interessantes, mas sem dúvida pelo menos um dos “depoimentos” poderia ter sido sacrificado para mostrar mais Eloína, principalmente levando em consideração a sua relevância no final. Mas antes de comentá-la, spoiler alert!. O gênero policial, já flexibilizado durante todo o filme, é rompido completamente no final, quando é revelado que Mateus tinha um caso com Eloína. Além disso, o personagem encontra o fim justamente a partir da vingança da personagem de Anselmo, que o assassina no final.
Porque é preciso assistir esses filmes policias brasileiros? Por que são bons é uma primeira razão. Mas o valor deles não se resume somente aos recursos estilísticos e narrativos, mas principalmente porque a partir de uma violência exagerada – e muitas vezes fascista – é possível evidenciar a violência inerente da sociedade brasileira sem aderir a uma perspectiva ideológica. Para além das disputas demarcadamente políticas, existe algo de podre entre nós e que não surgiu nem com Tropa de Elite ou com Bolsonaro. As obras aqui não buscam apresentar as causas da violência, ainda que mostrem algo, mas principalmente fazer um rápido diagnóstico e depois representar, de forma estilosa, as suas consequências. Não há um remédio ou uma solução. As mortes desses filmes não tem uma grande premissa social, que poderia camuflar, e justificar, o desejo, encubado, de matar ou consumir mortes. Se muitos consideram a postura de um Capitão Nascimento algo correto, dificilmente isso ocorreria para pensar os casos de Mariel ou Mateus. Mas o fato de alguém admirar esses personagens evidencia, em parte, essa potencial substância violenta que todos podemos ter, substância esta que move a admiração da sociedade por Mariel e Mateus, na ficção dos dois filmes, ou por figuras como Bolsonaro, na atualidade. Mas digo em parte, porque, por outro lado, o fascínio também pode existir devido à força do cinema, ou seja, da narrativa, das atuações, dos movimentos de câmera, da mise-en-scène – controlada ou não – dessas obras.
Para acabar, replico o pedido, mais do que necessário, de Andre Ormond, em Introdução Ao Cinema Policial Brasileiro: “não se enganem com o cinema policial brasileiro. Entendam sobre ele como os italianos entendem sobre gialli. Lambuzem-se disso como um fenômeno cultural, que teve seu apogeu ligado à brutalização do cotidiano urbano — gerada pela ditadura militar – impondo até os dias atuais um edifício de original criação”. Então, iniciem suas descobertas.
* O filme República dos Assassinos será exibido na sessão de encerramento da Mostra Curta Circuito 2018, no dia 25 de junho, no Cine Humberto Mauro, em BH. Terá bate-papo após a sessão com o diretor Miguel Faria Jr e o ator Anselmo Vasconcelos. Mais informações em www.curtacircuito.com.br






